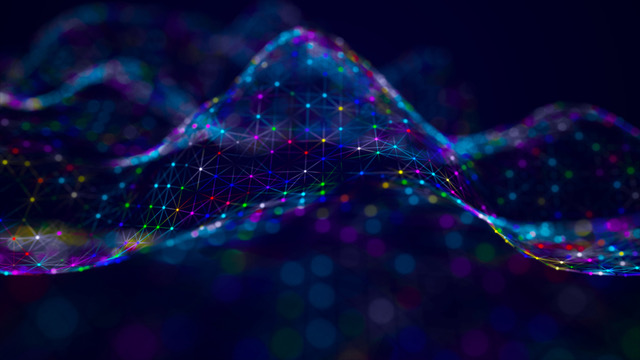O preocupante aumento das mutilações genitais femininas 'medicalizadas' no Quênia
Edinah Nyasuguta Omwenga estava lutando por sua vida, após sofrer complicações pós-parto, quando ouviu médicos de um hospital no Quênia descreverem seu caso como um típico exemplo dos efeitos nefastos, e até mortais, da excisão.
Ao contrário de milhares de jovens na África Oriental, Edinah Nyasuguta Omwenga foi submetida a mutilação genital medicalizada. Isso significa que um profissional de saúde em um hospital fez a ablação do clitóris.
"Eu tinha sete anos (…) ninguém me disse que isso me causaria tantos problemas", diz esta mulher, hoje com 35 anos.
Quando o Quênia proibiu a mutilação genital feminina (MGF) em 2011, poucos previram que o procedimento, tradicionalmente realizado em público com pompa e cerimônia, seria transferido para clínicas e lares privados, escondidos da vista de outras pessoas.
Tanto os profissionais como as comunidades defendem a mutilação genital feminina medicalizada como forma de preservar a tradição, apesar dos riscos para a saúde física, psicológica e sexual das meninas. Com frequência, elas não têm nem 15 anos de idade quando são submetidas a esse procedimento.
De acordo com um relatório de 2021 do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), esse tipo de ablação medicalizada está aumentando no Egito, Sudão, Guiné e Quênia.
- "O fim do mundo" -
No condado de Kisii, 300 quilômetros a oeste da capital do país, Nairóbi, mais de 80% dessas mutilações são realizadas por profissionais de saúde, segundo o governo.
Doris Kemunto Onsomu passou anos fazendo a incisão em meninas dessa região montanhosa, acreditando que era uma alternativa mais segura ao procedimento tradicional que ela sofreu quando era adolescente.
"Como estava ciente do risco de infecção, usava um bisturi novo a cada vez", disse ela à AFP.
Ela acreditava estar "ajudando a comunidade". E os pedidos chegavam de famílias de todas as camadas sociais.
"As tradições não estão ligadas à educação. Demora muito para desaprender certas práticas", avalia Doris, de 67 anos.
Tina (que pediu que seu nome verdadeiro não fosse divulgado) estava na casa da avó, em Kisii, quando um médico chegou tarde da noite para operá-la. Ela tinha 8 anos.
"Foi como se fosse o fim do mundo. Foi muito doloroso", disse à AFP essa filha de um engenheiro.
Por ordem da avó, teve de permanecer em isolamento até a cicatrização da ferida. Agora com 20 anos, essa estudante da Universidade de Nairóbi faz campanha contra a prática.
Rosemary Osano, a mais nova de cinco irmãs, diz que "sentiu pressão" para seguir a tradição.
"As pessoas pensam que adotamos a cultura ocidental de muitas maneiras (…) Por isso, defendem (a mutilação genital feminina) como forma de preservar a cultura", diz essa mulher de 31 anos.
- Criar consciência -
A prática também persiste nessas comunidades no exterior.
Em outubro, um tribunal de Londres condenou uma mulher britânica por levar uma menina de três anos a uma clínica no Quênia para ser submetida à mutilação medicalizada.
Aqueles que ainda praticam a mutilação genital feminina "dizem que, sem esta excisão, a jovem se tornará prostituta", disse à AFP a ativista Esnahs Nyaramba.
O presidente William Ruto pediu aos quenianos que parem de praticá-la, mas, para Esnahs Nyaramba, são necessárias sanções mais duras.
"Se um familiar for preso (…) as pessoas vão ficar com medo", afirma.
Para outros ativistas, no entanto, uma política mais repressiva poderia tornar a prática ainda mais clandestina. Várias ONG decidiram, então, concentrar-se na sensibilização para que as famílias optem por ritos de passagem alternativos.
E.Bekendorp--HHA